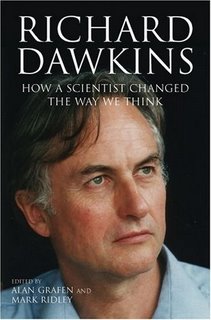Impressões da Islândia
 Para quem conhece aquele pedaço do mundo, a piada, em inglês, é sempre a mesma: "Iceland and Greenland got their names inverted. Iceland is green and Greenland is only ice"...
Para quem conhece aquele pedaço do mundo, a piada, em inglês, é sempre a mesma: "Iceland and Greenland got their names inverted. Iceland is green and Greenland is only ice"...
Ouvi isso de muita gente antes de ir à Islândia. Tenho que admitir que no inverno a Islândia não é muito verde mas é simplesmente fascinante. Tente imaginar um lugar onde a temperatura quase sempre está entre - 10 e 15 graus centígrados, cercado de um mar azulíssimo e onde há lagoas geotérmicas suficientes para gerar constantes nuvens de vapor que pairam sobre uma paisagem lunar. Imagine essa ilha toda feita de relevos vulcânicos (muitos ativos) e campos intermináveis de lava, na maior parte negra. No inverno os campos de lava ficam irregularmente cobertos de neve dando a impressão de uma tapeçaria muito intrincada, de branco e preto.
No verão, depois da neve derretida, os campos se cobrem de gramas muito verdes onde pastam aqueles cavalos islandeses, raça que quase não mudou desde o tempo dos Vikings. São, ao contrário do que se imagina para um cavalo que carregava os guerreiros Vikings, pequenos e fortinhos, com a garupa larga e a crina densa e um pouco espetada. Além disso têm um quinto jeito de andar (como era? trote, galope, corrida, caminhada e esse quinto que consiste de um galope atrás e um floreio com as patas da frente - só vendo pra crer. Notem que há 80.000 cavalos desses para os 300.000 habitantes da Islândia (o nascimento deste último noticiado nos jornais recentemente!). Leia mais sobre os cavalos http://www.imh.org/imh/bw/iceland.html.
Reykjavik (pronuncia-se rekavik) abriga a maior parte da população do país e fica na ponta de um dos lados da baía de Reykjanes. Tem vista pras montanhas do outro lado da meia-lua de terra que encompassa um bocado das águas geladas do Atlântico Norte. A economia se apoia principalmente no mercado pesqueiro, na criação de ovelhas e, mais recentemente, no turismo. O governo islandês subsidia e protege a todo custo a pouca agricultura do país, toda feita em estufas que podem ser vistas - jóias luminosas e esverdeadas - ao longo das estradas estreitas que cruzam aquelas vastas terras. Um pouco desproporcionais em relação às tais estradas são os super jipes, os veículos mais apropriados para explorar o terreno acidentado da ilha.
Foi num desses jipes que fomos visitar a terceira maior geleira do país, Hofsjökull (925 km²). Em direção `a geleira passamos por Geyser, cujo nome é atualmente usado para referência ao fenômeno, e por uma grande cachoeira de bordas salpicadas de neves finas, fruto dos espirros congelados em pleno ar. Geyser é hoje inativo, mas assistimos Strokur, um outro geiser bem próximo, numa erupção de 20 metros.
Era fácil, segundo nosso guia Haukur (que quer dizer falcão em islandês), saber se tínhamos chegado na geleira "quando você não enxergar mais nada preto (rochas) é porque chegamos". Não sei exatamente o que eu esperava de uma geleira; um planalto de gelo, tipo um iceberg achatado? Só não esperava aquela imensidão branca, sem contornos, sem detalhes. O branco mais branco que já vi. O céu sobre a geleira também é branco - encoberto e recebendo luz que se reflete no gelo abaixo - de forma que não há divisão entre céu e terra, o horizonte não existe. E tirando as trilhas que nosso jipe havia deixado na neve, meus olhos não conseguiam se fixar em nada. Procuravam cansados um ponto focal, algo que desse noção de profundidade, distância. Mas só o que eu via eram aquelas pequenas bolinhas de luz dentro dos meus próprios olhos, quase uma vertigem. Incrível.
Na estrada de volta paramos perto de um riacho (toda água de lá é potável e puríssima) para que Haukur inflasse de novo os pneus do jipe que precisam ser quase que completamente esvaziados para aumentar a tração na neve. Não muito longe de onde paramos havia um barracão de alumínio daqueles feitos pelo exército americano. [Inclusive, o exército americano se retira da Islândia esse ano - o país fica sem corpo militar algum]. Têm forma de um cano cortado no meio longitudinalmente com a superfície cortada para baixo, de modo que o teto é redondo, a metade intacta do cano. Fui olhar de perto e percebi umas caminhas lá dentro, uma mesa, uma vela meio derretida, um mapa da Islândia aberto, umas cadeiras velhas. A porta destracada me recebeu. Podia ver a paisagem completamente deserta pelas janelinhas quadradas de vidro. Num cantinho, dentro de uma espécie de caixa presa à parede-teto circular, estava um caderno de capa dura azul turquesa e uma caneta! Qual não foi minha surpresa ao ver que dentro dele haviam depoimentos de dezenas de passantes, principalmente turistas. O mais antigo datado de meados dos anos 80. Italiano, inglês, japonês, e línguas que não reconheço. Deixei alí minhas 3 linhas abasbacadas em português, minha pequena marca naquele mundão.
Na cidade participamos da vida social de Reykjavik que borbulha com restaurantes, bares e mil lojas interessantíssimas, principalmente de roupas e jóias, estilo europeu. As joalherias mostram peças criativas que levam pedaços de lava e outras rochas vulcânicas. A bebida local, Brevenin, é igualmente interessante. Um tipo de schnapps, com sabor de sementes de cominho (ou carraway, como é que traduz isso mesmo?), cujo nome significa morte negra! A cerveja, acredite ou não, era proibida no país até 1987, com o intuito de evitar que as pessoas bebessem grandes volumes de álcool, o que seria facilitado pela leveza da bebida. Brevenin não é leve mas nem por isso influencia o volume de álcool consumido nos bares. Principalmente não durante o auge do inverno quando o sol nasce às 11 e já desaparece à 1 da tarde. O mais doloroso da vida urbana são os preços exorbitantes devido ao alto volume de importações do país. O Kroner, moeda islandesa, parece inócuo quando se lê a conversão de 67 para cada 1 dólar americano; mas na hora de pagar um jantar de 8000 Kroner num simples restaurante local, se vê que é quase impossível comer por menos de 100 dólares por pessoa.
No último dia visitamos a lagoa azul, que fica no meio do caminho entre Reykjavik e Keflavik, onde está o aeroporto internacional. Ela se espalha, muito grande, por bacias formadas pelas rochas negras, no meio de um campo de lava com horizontes infinitos. As águas dessa lagoa são muito salgadas e esbranquiçadas devido a um tipo de argila e aos sais minerais. Dependendo da luz toma tonalidade azulada, linda. Perto da lagoa, há cavernas escavadas na rocha, com portas de madeira pesadas, que fazem as vezes de sauna. Ali, no ar gélido do mundo exterior e em meio aos vapores, tomamos sol e ficamos de molho antes de pegar o avião de volta aos Estados Unidos.
Nunca achei que fosse conhecer a Islândia, mas agora só penso em voltar para ver o país no verão, curtir o sol da meia-noite que faz de Reyjkavik o equivalente a uma cidade brasileira durante o Carnaval. Voltar também para perseguir a aurora boreal e explorar a parte norte do país, com seus vastos fiordes e lindos campos. Voltar para rever as pessoas que conhecemos e deixamos pra trás com uma saudadezinha gostosa. O joalheiro bêbado que fez nossas alianças (uma muito grande, outra muito justa!), a moça do bar Dillon, que nos traduziu a certidão de casamento, o guia Haukur que desceu a geleira numa velocidade incrível tocando U2 no rádio do jipe. Tudo dá saudade, até a morte negra, depois de uma boa sopa de cordeiro islandês!